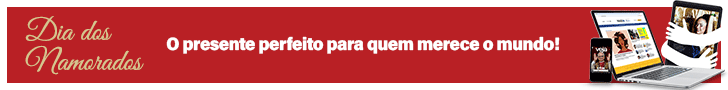Todo escritor que se preza já teve original recusado. E Ignácio de Loyola Brandão, o atual ocupante da cadeira n° 11 da Academia Brasileira de Letras (ABL), não foge à regra. Seu primeiro livro, Depois do Sol (1965), de contos (clique aqui para comprar), foi rejeitado por cinco editoras. Da Civilização Brasileira, chegou a receber uma carta, assinada por Mário da Silva Brito, justificando o motivo da recusa: “Escreve como quem mija”, dizia o remetente. “Bem, se mijar é um ato saudável, necessário e até gostoso, meu livro, então, deve ser bom”, rebate o destinatário.
Aos 86 anos, Brandão acaba de lançar seu 49° título: Deus, O Que Quer de Nós?, pela Editora Global (clique aqui para comprar), sobre a pandemia de Covid-19. Nele, o autor volta ao gênero que o consagrou: a distopia — lugar ou estado imaginário em que se vive em condições de extrema opressão, desespero ou privação.
Dos seus 48 livros, três são assumidamente distópicos: Zero, de 1975 (clique aqui para comprar), Não Verás País Nenhum, de 1981 (clique aqui para comprar) e Desta Terra Nada Vai Sobrar, A Não Ser O Vento Que Sopra Sobre Ela, de 2018 (clique aqui para comprar).
“Quando escrevi Zero, retratei o que acontecia naqueles anos 1960 tão duros. Foi o produto de todas as reportagens, fotografias e entrevistas que a censura proibiu durante a ditadura”.
“Fui secretário de redação e, por anos, guardei tudo o que a censura vetava. Tinha, em meu apartamento na Praça Roosevelt, uma montanha de papéis. Um dia, a atriz Ítala Nandi viu aquela montanha e, quando soube que era tudo o que o Brasil não tinha podido ler, indagou: ‘Isso não daria um livro?’”.
+ Leia também: Por que o xadrez faz tão bem ao cérebro
Zero, um de seus livros mais famosos, foi publicado em 1974, na Itália. No Brasil, só chegou um ano depois, mas foi logo proibido pelo regime militar. O romance, alegavam os censores, representava um risco à moral e aos bons costumes.
Logo na primeira página de Deus, O Que Quer de Nós?, Evaristo, o protagonista da história, enterra, com as próprias mãos, sua mulher, Neluce, vítima de uma pandemia que já dura quase 12 anos e dizimou 213 milhões de brasileiros. Como não há mais lugar nos cemitérios, o jeito é enterrar os mortos, enrolados em sacos de lixo, em covas rasas ou improvisar caixões do que sobrou da Floresta Amazônica ou da Mata Atlântica, totalmente devastadas. No livro, o narrador se refere ao presidente como “desatinado” e a pandemia como “funesta”.
“Quais os momentos mais críticos ou preocupantes do governo Bolsonaro? Todos!”, responde o autor, sem titubear. “Ele não nos deu um minuto sequer de sossego. Esse homem passou quatro anos sem governar. Foram quatro anos de destruição. Sempre com aquela voz odiosa, desdenhando de tudo e de todos. Que alívio quando, com sua derrota, ele se tornou brochável e sua voz desapareceu!”, suspira, aliviado.
A inspiração para escrever Deus, O Que Quer de Nós? surgiu logo nos primeiros dias de março de 2020. Diante da impossibilidade de sair de casa, Brandão começou a rascunhar fragmentos de textos em seu computador. Alguns deles viraram crônicas no jornal O Estado de S. Paulo. Outros deram origem ao seu mais novo romance.
+ Leia também: “Se tem vida, tem jeito”: a história e a missão de um suicidologista
O fundo do poço
O escritor passou boa parte da quarentena ao lado da mulher, a arquiteta Márcia, entre o apartamento em São Paulo e a casa em Aiuruoca (MG). Juntos ou separados, os dois fizeram lives, telefonaram muito, viram Netflix sem parar… Tudo, sublinha o escritor, para não “pirar”.
“Quarenta anos atrás, quando publiquei Não Verás País Nenhum, me taxaram de louco. Hoje, publicado em nove países e com quase um milhão de exemplares vendidos, virou um clássico. A realidade será sempre mais absurda que o próprio absurdo”.
Na hora de batizar o livro, ficou na dúvida entre Deus, O Que Quer de Nós?, da escritora francesa Simone de Beauvoir (1908-1986), e Como Chegar ao Fim do Poço Sem Perder de Vista as Estrelas?, do poeta amazonense Aldísio Filgueiras. A princípio, optou pelo segundo título, extraído do livro Cidades de Puro Nada, de 2018 (clique aqui para comprar), mas, com o livro já na gráfica, mudou de ideia.
O título definitivo foi inspirado em diálogo escrito por Beauvoir em As Inseparáveis, de 1954 (clique aqui para comprar): “Há uma coisa que não entendo. Por que Deus não diz claramente o que quer de nós?”.
“À medida que você afunda, o buraco parece se estreitar lá em cima, diminuindo seu campo de visão. Mas, sempre haverá alguma estrela para ser vista. Afinal, são 300 sextilhões de estrelas…”, filosofa o autor, referindo-se ao verso de Filgueiras. “Alice também caiu em um buraco e o mundo revelado foi lindo. Além disso, se o buraco for muito fundo, posso atravessar a Terra e, por acreditar que ela é redonda, sair do outro lado”.
+ Leia também: Memórias de uma pandemia no leito de um hospital
Infância literária
O inglês Lewis Carroll (1832-1898), autor de Alice no País das Maravilhas, de 1865 (clique aqui para comprar), foi um dos muitos escritores que o pequeno Ignácio leu quando garoto em Araraquara (SP), cidade onde nasceu em 31 de julho de 1936. Foi lá que, estimulado por uma tia-avó, Margarida, que gostava de mudar os desfechos das histórias, leu clássicos da literatura infanto-juvenil como As Viagens de Gulliver, de 1726 (clique aqui para comprar), do irlandês Jonathan Swift (1667-1745), e O Patinho Feio, de 1843 (clique aqui para comprar), do dinamarquês Hans Christian Andersen (1805-1875), entre tantos outros.
“Eu me achava feio e sofria bullying na escola. Nenhuma menina olhava para mim. Até o dia em que me deram (não lembro se meu pai, ou uma professora) O Patinho Feio. Foi minha salvação. A partir dali, passei a imaginar que eu era o pato errado no meio do grupo. Pela vida afora, tentei sempre me descobrir como cisne”.
Entre outros autores, Brandão cita também os britânicos George Orwell (1903-1950), autor de 1984, de 1949 (clique aqui para comprar), e Aldous Huxley (1894-1963), de Admirável Mundo Novo, de 1932 (clique aqui para comprar); o tcheco Franz Kafka (1883-1924), de A Metamorfose, de 1915 (clique aqui para comprar), e o brasileiro J.J. Veiga (1915-1999), de A Hora dos Ruminantes, de 1966 (clique aqui para comprar). “Um gênio!”, frisa.
Já adulto, Brandão passou por diversas redações. Na do jornal Última Hora, onde trabalhou de 1957 a 1966, conheceu o jornalista pernambucano Nelson Rodrigues (1912-1980).
Certa tarde, durante uma visita do “anjo pornográfico” a São Paulo, perguntou a ele, “catando milho” em sua máquina de datilografia, como conseguia escrever uma coluna por dia. “Olhando pela janela, meu jovem. Olhando pela janela”, respondeu o autor de A Vida Como Ela É, coletânea das crônicas publicadas entre 1950 a 1961 (clique aqui para comprar). “Está tudo lá. Basta saber olhar”.
Memórias do centro-cirúrgico
Em 1996, Brandão levou um susto ao descobrir um aneurisma cerebral. “Segundo o neurologista Marcos Stavale, que salvou minha vida, estava para estourar quando ele o ‘clipou’. Fui salvo por três segundos”, relata o escritor que, um ano depois, publicou Veia Bailarina, de 1997 (clique aqui para comprar).
O título do livro faz referência à tentativa frustrada da enfermeira de introduzir um cateter em seu braço para aplicação de soro. Por sete vezes, ela tentou, sem conseguir. “Puxa, fui logo pegar uma veia bailarina!”, queixou-se a enfermeira. “Uma veia que dança, recusa a agulha, tem vontade própria… Não descobri se é gíria do hospital, só sei que a poesia estava ali”, registrou o autor no livro.
A cirurgia, aliás, durou 13 intermináveis horas. De hora em hora, a apresentadora Hebe Camargo (1929-2012), amiga de longa data, ligava para Márcia: “Terminou?”, perguntava uma. “Ainda não”, respondia a outra. Por volta das dez da noite, Hebe ligou pela 13ª vez. “Terminou?”, voltou a perguntar. “Acabou de ir para a UTI. Está vivo e bem!”, respondeu Márcia. “Puta que pariu! Deus é grande!”, bradou Hebe.
Seis meses depois de receber alta, o escritor teve a oportunidade de assistir à gravação da cirurgia. Conta que ficou emocionado ao ver seu cérebro por dentro. “Foi um privilégio. Jamais vou esquecer”, diz.
Vida longa a uma das cabeças mais criativas da literatura nacional.


 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO